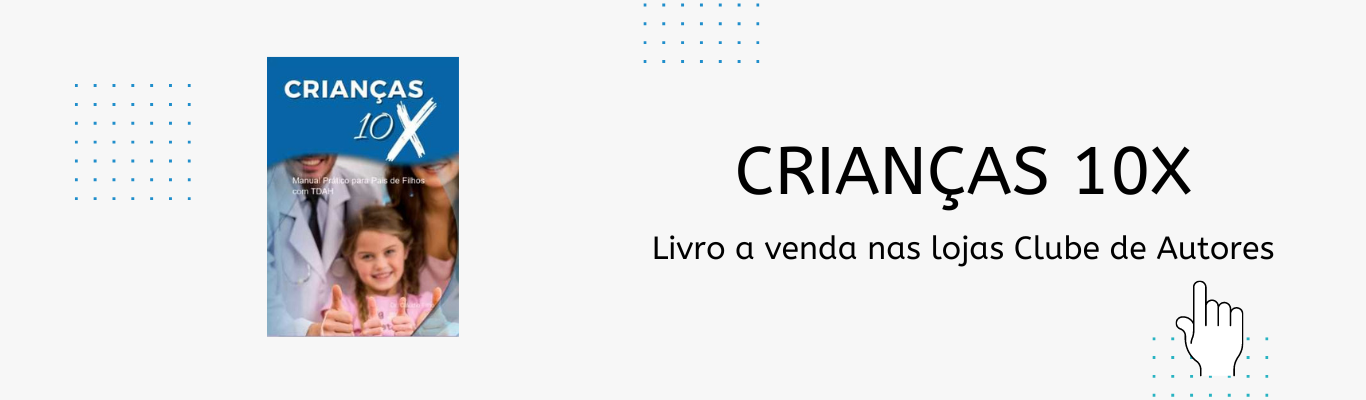Capital financeiro (Wall Street) enriqueceu, mas classe média perdeu renda, marcando divisão em Washington. Por Cláudio da Costa Oliveira.
No final da Segunda Grande Guerra, em Bretton Woods (1944), ficou estabelecido que o dólar seria a moeda de referência internacional, mas condicionado a ter uma paridade fixa em ouro (US$ 35 por onça Troy de ouro), ficando as demais moedas atreladas ao dólar e, indiretamente, ao ouro. Isto porque os EUA concentravam mais da metade do PIB mundial e detinham 2/3 das reservas de ouro da época.
Entretanto este modelo só durou até 1971, quando o presidente Richard Nixon suspendeu a conversibilidade do dólar em ouro.
O dólar passou a ser uma moeda fiduciária como as demais, mas manteve a posição dominante no comércio e nas reservas globais devido ao poder econômico, militar e geopolítico dos EUA.
Globalização
Nesta condição, o volume de recursos detido pelos americanos teve um crescimento exponencial, e se tornou necessário encontrar formas de melhorar a remuneração deste capital.
Neste cenário, Ronald Reagan (EUA) e Margareth Thatcher (Reino Unido) impulsionaram a agenda liberalizante: abertura comercial, desregulamentação e incentivo às empresas a buscar produção onde fosse mais barato (1980).
A globalização não foi só a transferência de fábricas para diversas partes do mundo (Ásia, México e outros países), mas a criação de um sistema financeiro tributário com base nos lucros extraídos destes mesmos países.
Os investimentos americanos foram fundamentais para a ascensão da China – desde as reformas de Deng Xiaoping.
Efeito “bumerangue”
Foi o capital americano que deu o “empurrão inicial” no desenvolvimento chinês e asiático, via globalização.
Os EUA “criaram” a China moderna com a globalização, mas agora não aceitam dividir o poder que eles mesmos ajudaram a gerar. Tentam desfazer a criatura que ajudaram a criar, porque perceberam que ela ameaça sua hegemonia.
A Rússia entra como parceira estratégica da China, oferecendo energia e apoio militar, reforçando o bloco alternativo.
Mas o maior problema está lá mesmo nos EUA. A globalização gerou um movimento duplo. De um lado, a produção foi deslocada principalmente para a Ásia (China, Vietnã, Indonésia, Índia etc.), mas o lucro e o capital financeiro continuaram concentrados nos EUA.
Ou seja, a “fábrica” ficou no Oriente, mas o “cofre” permaneceu em Wall Street. O capital financeiro americano enriqueceu como nunca acumulando fortunas trilionárias.
Mas a classe média americana produtiva perdeu emprego e renda. Resultado: um descompasso interno nos EUA: Wall Street vence, mas o trabalhador americano perde.
O império financeiro americano apátrida (fundos trilionários) não tem interesse em romper totalmente com a China, porque grande parte de seus lucros vem justamente de lá.
Já o Estado americano e o Pentágono querem conter a China a qualquer custo, por medo de perder hegemonia estratégica.
Isto gera um conflito dentro dos próprios EUA: Wall Street prefere acomodação e negócios, Washington fala em guerra tecnológica, sanções e até em conflito militar.
Existe também uma divisão política, com os republicanos se posicionando mais ao lado de Washington, com seu MAGA (Make América Great Again), e os democratas ao lado de Wall Street.
O problema poderia ser resolvido se os donos do dinheiro (Wall Street) aceitassem ceder parte de seus lucros para o desenvolvimento interno. Mas isto não está ocorrendo.
Vivemos então um grande impasse de um mundo tensionado. Uma solução inusitada poderia vir através da descoberta de nova fonte de energia, desde que fosse limpa, abundante, constante e mais barata que a fóssil.
Cláudio da Costa Oliveira é economista aposentado.
Fonte https://monitormercantil.com.br/